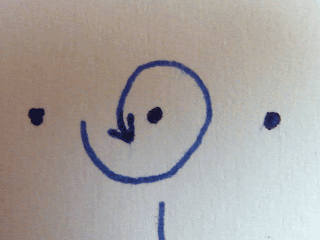“Os ateus, com efeito, têm o costume de procurar sem medida as honras e as riquezas, coisas que eu sempre desprezei, como sabem todos aqueles que me conhecem’’*.
O interesse pelo abjeto II
O interesse pelo abjeto
Colerus, esbofeteado uma vez, com seu retorno à obra, não faria mais do que seguir o mandamento do Cristo (ou o conselho, como diria Spinoza). – Àquele que te atinge a direita oferece a tua face esquerda. Como se esse conselho também dissesse: “Ao virar teu rosto de um lado para o outro, olha bem quem te ofende”.
(*) COLERUS, Jean. La vie de B. de Spinoza. In: Éthique: Bilingue latin-français. Trad. Bernard Pautrat. Paris: Seuil, 2010 [1675]. P. 600.
Fluctuatio animi
Ponto morto
Algo em comum
– “O de 8h38 acabou de passar, nós o perdemos!”.
A citação
O desejo
Uma peça que deborda, não se encaixa. Desvia, esquiva, reconstitui o jogo. Joga diferente. É um a mais, que não se enforma.
Você lhe dá uma regra, um doce, um nome, ele vira desejo de regra, de doce, de nome, mas apenas sempre parcialmente; sempre sobra aquela peça, que não sabe onde se colocar.
Coragem e prudência
Na coragem, está incluída a prudência como o que lhe dá a sua dose. A coragem sem prudência é incêndio, não é coragem.
O objeto é gramatical?
Proximidades notáveis V
Lógica suicidária
Atenção narcísica
Explicando os afetos: do corpo à alma, da alma ao corpo
“Ah! Você preferiria dormir aqui, perto de mim, do que ir sozinho ao hotel, disse-me Saint-Loup, rindo-se.
– Oh! Roberto, você é cruel, ao tomar isso com ironia, disse-lhe, pois você sabe que isso é impossível [num quartel], e que eu vou sofrer muito por lá.
– Pois bem! Isso me compraz, disse-me, porque eu tive, por mim mesmo, esta ideia de que você preferiria ficar aqui esta noite. E é precisamente isso que eu fui pedir ao capitão.
– E ele permitiu? Exclamei.
– Sem qualquer dificuldade.
– Oh! Eu o adoro!
– Não, isso é demasiado. Agora me deixe chamar meu adjunto para que se ocupe de nosso jantar”, ele acrescentou, enquanto eu me virava para esconder minhas lágrimas.*
Por uma ética da leitura: ler ou não ler as entrelinhas
(*) STRAUSS, Leo. La persécution et l’art d’écrire. Trad. Olivier Sedeyen. Paris: Gallimard, 2003. P. 64.
As ideias humanas são ideias divinas
Alguém, na medida em que imagina que suas ideias sejam verdadeiras e portanto também divinas, pensa com muita facilidade que um outro que se opõe a uma ideia sua também se opõe a Deus. Não ocorre tão facilmente alguém ser acusado de inimigo de Deus, apenas porque tem uma ideia que se imagina falsa?
Porém, é preciso acima de tudo perceber que a ideia falsa de um ser humano não nega a Deus jamais (nem mesmo a ideia de que Deus não existe), ela é mesmo parte de uma ideia verdadeira em Deus.
As ideias humanas verdadeiras são ideias divinas, mas as falsas também. Só que, em Deus, as ideias humanas falsas se completam com outras ideias para se tornar verdadeiras.
Spinoza: “Todas [as] ideias, na medida em que a Deus são referidas, verdadeiras são” {e2p32}.
Da mística à política
Constelações afetivas
Olhar fisicamente para as coisas
Personne ne sait
qu’un petit ruisseau
né d’une source faible
a la mer comme but
Ninguém sabe
que um pequeno arroio
nascido de uma fraca fonte
tem o mar como meta
KIAROSTAMI, Abbas. Avec le vent.
Trad. Nahal Tajadod e Jean-Claude Carrière. Paris: POL, 2002. P. 187.
Vida humana e vida de deus
Epicuro parece nos dar uma outra resposta num fragmento chamado “O grito da carne” – “não ter fome, sede nem frio, aquele que tem estas coisas – e a esperança de as ter – pode rivalizar
Ora, muitos de nós alcançamos atender, e esperamos poder atender sempre, aos sinais sonoros da carne, mas, mesmo assim, não podemos rivalizar com a suma felicidade de uma vida divina.
Isao que, para Epicuro, complica a nossa vida humana é justamente a nossa humanidade, a possibilidade que temos para formar ideias confusas sobre a vida, sobre o mundo, sobre os deuses, enfim, o véu imaginário especificamente humano que, no entremeio, nos cobre a face e não nos deixa perceber a vida como de fato é. Essas confusões da alma nos fazem doentes. Dispondo de tudo o que precisamos para viver como deuses, imaginamos nos faltar tudo, e multiplicamos nossos desejos de prazeres imaginários.
Assim, para viver uma vida de deuses, enquanto humanos, os bens do alimento e da vestimenta não nos bastam, precisamos de um bem maior, a prudência (phronêsis), na medida em que só a prudência pode estabelecer uma estratégia de vida que pratique uma diferenciação dos desejos e dos prazeres respectivos e a independência (autarkeia), não a abstenção, em relação aquilo que não é necessariamente desejável.
Para chegar a prudência é preciso filosofar. Mas a filosofia nunca será, para Epicuro, um bem em si mesma. Ela o é apenas na medida em que nos cura da nossa doença da alma, do nosso imaginário amedrontado, ao apresentar a natureza, os deuses, a morte, como de fato são. Mas nada além disso. É preciso saber também se desvencilhar da ‘vontade de verdade’ (um termo que não é de Epicuro), da ideia de que a verdade vem acima de tudo.
(*) Épicure: Lettres et Maximes. Trad. Marcel Conche. Paris: PUF, 1987 [-300]. Sentences Vaticanes, §33. P. 255.
Elogio à física
Consumação
Nessa tristeza, e por causa dela, nosso desejo de consumir se renova ao mesmo tempo que se sacia. Pois a tristeza provoca em nós o desejo de acabar com ela.
Música americana
Viajando
Duração e eternidade
Alguns são como imagens instantâneas, fotografias:
A névoa espessa da manhãOutros são como vídeos muito curtos:
sobre o campo de algodão
o trovão ao longe*
O sol de outonoOutros, ainda, são de uma duração indefinida:
através do vidro
clareia as flores do tapete
uma abelha se choca contra o vidro**
As moscasMas todos parecem se referir a alguma coisa de eterno.
giram em torno da cabeça do cavalo morto
ao pôr do sol***
O humanismo e a mosca
Esta compaixão pelo seus semelhantes seria o que diferenciaria o ser humano de todos os outros do universo. A tal ponto que se diz daquele que não é mais capaz de sofrer, ao ver o outro sofrer, e de se alegrar, quando percebe o outro se alegrar, que já deixou de ser humano.
Sendo a compaixão a diferença específica do ser humano, ela seria então a sua quidditas, aquilo que faz que ele seja o que ele é e não outra coisa, e portanto o fundamento do humanismo.
Entretanto o humanismo parece mais do que isso:
Uma pequena moscaO ser humano talvez seja o único ser capaz de padecer em razão do sofrimento que ele mesmo causa a um outro.
tomada pela vontade de vomitar
ao odor do inseticida
haverá alguém para a socorrer?*
(*) KIAROSTAMI, Abbas. Avec le vent. Trad. Nahal Tajadod e Jean-Claude Carrière. Paris: POL, 2002. P. 80.
Duas concepções de direito interligadas por um “e daí?”
– Você não tem o direito de estar aqui!
Nesta enunciação mostra-se com clareza a distinção entre o direito e o fato. O direito é aí algo totalmente distinto do fato de “estar efetivamente aí”. O direito é uma etiqueta que se cola ou não ao fato. Mas quem a cola, quem descola?
Diante desse cola-descola o sem-direito pode responder simplesmente ao enunciador:
– E daí?
E aí passamos a uma outra concepção, em que o direito é igual ao fato.
Resistência in-vent-ando
Veja esses versetes do livro de poemas-imagem de Abbas Kiarostami, Com o vento:
Submissos cem soldados – Soumis cent soldats
retornam ao dormitório – se rendent au dortoir
uma noite de lua cheia – une nuit de pleine lune
sonhos insubmissos – rêves insoumis
KIAROSTAMI, Abbas. Avec le vent.
Trad. Nahal Tajadod e Jean-Claude Carrière. Paris: POL, 2002. P. 14.
Pontes entre planos intelectuais II
Conferir, por exemplo o versículo 69 da surata 29. Le Coran: essai de traduction. 2 ed. Trad. Jacques Berque. Paris: Albin Michel, 2002. P. 431.
Pontes entre planos intelectuais
Experiências negativas II
“(Nomes divinos, I, 5): aqueles que, mediante a cessação íntima de toda operação intelectual, entram em união com a luz inefável... não falam de Deus senão pela negação”*.Dá-se o nome de experiência negativa justamente àquilo de que não se pode falar.
Linda coincidência
– Léon ! Toi enfin ! dit-elle en se retournant. Que tu es beau, ce soir, mon Léon ! – et je la vis crisper les poings, et trépigner. – Voilà le gars qu’il me faut, messieurs les Intellectuels !...)
KLOSSOWSKI, Pierre. Les lois de l‘hospitalité. Paris: Gallimard, 1965. P. 227.
Estar só, estar solitário
Pensar, aqui, é manter um diálogo consigo mesmo, com o outro-eu. Quando já não podemos amar esse outro-eu, com quem no pensamento dialogamos, então se está solitário e já não se pensa mais.
Ética como exercício refletido do corpo
Uma vida humana
Seria essa uma vida humana? Leiamos Spinoza:
Quando então dissemos tal império ótimo ser, onde humanos em concórdia [a] vida passam, [uma] vida humana inteligo não aquela [que se define] somente pela circulação do sangue e outras coisas que a todos os animais são comuns, mas aquela que se define principalmente pela razão e pela verdadeira virtude e vida da alma.
SPINOZA, Benedictus de. Tractatus Politicus [1677]. In: Opera Posthuma. –: –, 1677. Cap. II, §5. P. 290.
A ênfase ao texto foi dada por Laurent Bove (Espinosa e a psicologia Social: Ensaios de ontologia política e antropogenêse). Belo Horizonte: Autêntica, 2010. P. 103.
Para pensar a coisa
O pensamento-imaginação envolve apenas algo da coisa pensada como sua causa, mas não só a coisa toda adequadamente, pois esse tipo de pensamento é uma ideia que corresponde à afecção da coisa no nosso corpo, precisamente à imagem da coisa no corpo, e portanto envolve muito do corpo próprio. Exatamente como a fotografia envolve algo do objeto, mas muito do próprio suporte fotográfico.
O pensamento-entendimento tem uma ideia adequada da coisa, mas geral. Quer dizer, não alcança a coisa na sua singularidade, pois pensa a coisa existente a partir daquilo que ela tem de comum com nosso corpo. Assim, quanto mais complexo for nosso corpo, tanto mais traços comuns ele pode ter com as coisas, e tanto mais ele as pode entender.
O pensamento-intelecto, finalmente, intelige. Ele não requer a imagem nem o comum da coisa no nosso corpo. Ele pode alcançar a ideia singular adequada da coisa na sua essência singular só com o seu próprio exercício, sem nenhum suporte ou ponto de partida outro do que a sua própria efetividade ou existência. Sem envolver a imagem ou o comum da coisa no corpo próprio, esse tipo de pensamento é impessoal, eterno e pode ser dito divino.
Meta-homonímia
Entre fé (amor e obediência a Deus) e fé (confiança no amigo), uma homonímia.
Entre a homonímia das mangas e a homonímia das fés, uma homonímia de homonímias.
Conexo
O pensamento por contrastes
Contudo, ao pensarmos por negação, ficamos ligados ao pensamento que negamos, se é a partir do posto que o antiposto se mostra dialeticamente.
Não é muito diferente de negar pensar por comparação. A comparação permite a intelecção do um pelo jogo de mini-identidades e minidiferenças.
Porém, nisso também, ficamos tributários, por exemplo, do Brasil, ao pensarmos a Suíça, ou de João, ao pensarmos Jorge, por comparação. Não inteligimos Jorge por si mesmo, mas através de João.
Será possível um pensamento que tenha a si mesmo como fundamento e não o seu contrário? Um pensamento absolutamente afirmativo? Uma absoluta metafísica?
Mesmo o pensado descrevente de um objeto tem o objeto (que aparentemente é um outro em relação ao pensamento) como ponto de embate. Jorge-pensado tem o objeto-Jorge como sua negação-afirmação. O pensamento deve aí seu critério a seu objeto.
O pensamento absolutamente afirmativo – o pensamento sem amarras – a mais pura metafísica – deve então encontrar em si mesmo seu fundamento – deve subverter toda a crítica dessa possibilidade de autofundamentação.
Jorge e Suíça não podem ser o critério de Jorge-Suíça-pensados, mas devem ter no pensamento (e na imaginação como parte desse pensamento) o critério do seu modo de ser.
O interessante é que o pensamento-imaginação também envolve algo do objeto, imaginado como sua causa...
Conta-gotas
Parisienses III
In gestu nonnulli putant idem vitium inesse, quum aliud voce, aliud nutu vel manu demonstratur*.
Alguns opinam estar no gesto o vício mesmo, quando uma coisa é mostrada pela voz e outra por movimento de cabeça ou pela mão.Nessa frase de Quintiliano, percebe-se a fratura do sujeito, os contrários no sujeito que se mostram um no gesto outro na voz.
Mas essa fratura (dizer uma coisa ao mesmo tempo que se a nega pelo gesto) não é uma hipocrisia. Quintiliano a atribui a um vício do gesto (diante da virtude da voz).
Deleuze a comenta assim: Obra de Klossowski: um paralelismo do corpo e da linguagem, ou melhor, uma reflexão do corpo na linguagem e da linguagem no corpo.O (raisonnement) raciocínio (para Klossowski de essência teológica) é operação da linguagem, mas a pantomima (essencialmente perversa) é operação do corpo.
(*) Quintiliano, Instituição oratória, I, v, 10. Apud: KLOSSOWSKI, Pierre. Les lois de l‘hospitalié. Paris: Gallimard, 1965. P. 14.
Parisienses I
“[...] moi je vis et je crève pour la beauté et donc pour la cause des salopards”*
“[...] eu vivo e morro pela beleza, e portanto pela causa dos safados”
(*) KLOSSOWSKI, Pierre. Les lois de l‘hospitalité. Paris: Gallimard, 1965. P. 46.
As vantagens da corte
A atomização tirânica, porém, afeta primeiro e mais eficazmente aqueles que se encontram mais próximos ao tirano. Quanto mais amigo do tirano se é, mais isolado se fica dos outros amigos do tirano. Por isso, muitas vezes, a vida é melhor entre a plebe do que na corte.
Viver a mera vida
Ao lado, havia uma bacia muito maior, uma grande piscina de águas claras e vazia. Mas talvez a água estivesse clorada, e eu não sabia se as carpas iriam suportar o cloro. Mesmo sem saber, decidi-me por jogá-las lá, com esse pensamento em mente – pensamento que já vai se tornando um chavão – : melhor morrer do que simplesmente viver a mera vida, uma vida que não merece ser vivida.
Contudo era eu decidindo pelos peixes.
Convite à temeridade
– Ouse fazer uso de sua inteligência!
Atualmente esta divisa assumiria um viés negativo:
– Ouse não fazer uso da inteligência do outro! (por exemplo: ouse não usar da informática!)
Problemas filosóficos
Esse parece ser um grande argumento para acalmar a efervescência do pensamento. Mas, pense e veja, os problemas, quem e em que lugar não se os inventa?
O acidente x está para a racionalidade x, assim como...
Por uma ética da leitura: em uma frase apenas
Definição de uma vida
Não precisamos apelar, nesta definição de uma vida, para categorias biológicas. Então uma vida já não é um critério de recorte entre os seres (vivos e não-vivos). Todo corpo (ou alma) vive enquanto dura. Todo o ser vive.
Um corpo, sendo ao mesmo tempo uma alma, pode não ser o objeto da biologia.
Faço um convite para que retiremos nossas lentes biológicas, ao fazermos a leitura dos dois textos seguintes.
O de Dickens (Our mutual friend, cap. III)...
Ninguém tem a mínima consideração pelo homem [trata-se de Riderhood]: com todos eles, ele tem sido objeto de repúdio, suspeita e aversão; mas a fagulha da vida dentro dele é curiosamente separável dele mesmo, e eles têm profundo interesse nisso, provavelmente porque aquilo é vida, e eles estão vivos e devem morrer.... e este de Faulkner (Palmeiras selvagens, p. 155):
Veja! Um sinal de vida! Um indubitável sinal de vida! A fagulha pode queimar-se e exaurir-se, ou ela pode inflamar-se e expandir-se, mas veja! Os quatro rudes comparsas, vendo-a, derramam lágrimas. Nem Riderhood neste mundo nem Riderhood no outro poderiam arrancar lágrimas deles; mas uma alma humana combatente, entre os dois, pode fazer isso facilmente.
[...] falando com ninguém tanto quanto o grito de um coelho moribundo não se dirige a nenhum ouvido mortal, mas é sim uma acusação a toda a vida, e à sua loucura e sofrimento, à sua infinita capacidade de loucura e dor, que parece ser sua única imortalidade [...]
A biologia aqui não nos faz falta.
Luta por reconhecimento
Entretanto, gostaria de considerar que a luta por reconhecimento envolve também uma rendição, um render-se.
Na luta por reconhecimento é preciso distinguir dois movimentos: um pela identidade e um por direitos iguais.
Quem luta por reconhecimento diz duas coisas: _Quero ser reconhecido. _Quero ter direitos.
Estas duas vontades se articulam assim: _Eu sou ISTO e enquanto tal quero ter direitos.
ISTO é uma variável, cujo lugar é ocupado por diferentes gêneros ou identidades: mulher, negro, homossexual, nordestino, proletário, estrangeiro, judeu, árabe, protestante, doente mental...
_Eu sou ISTO e, enquanto sou assim, quero ser cidadão (ter meu direito reconhecido por outros cidadãos).
Cidadão-isto, cidadão-aquilo, cidadão-mulher, cidadão-negro etc.
As diversas lutas por reconhecimento vão tornando mais geral a categoria do cidadão, que vai se tornando pouco a pouco mais abrangente, até idealmente abrangir a todos os indivíduos de um grupo (até mesmo eventualmente os não-humanos).
A cidadania vai passando por cima das diferenças.
Cidadão = homem = mulher = branco = negro = etc.
E, assim, o poder soberano, o poder que se exerce entre os seres enquanto são cidadãos e não-cidadãos, neutraliza os recortes dicotômicos sim-não feitos por outros tipos de poder.
O poder soberano parece, a partir disso que se disse, ter uma dificuldade para fazer por si mesmo o recorte entre o cidadão e o não-cidadão. Portanto, para fazê-lo, apela para outros regimes, por exemplo, os disciplinares, os biopolíticos, os teológicos, que funcionam por normas, através das normas, e não por ou através dos direitos.
O recorte (e a exclusão) do não-cidadão parece constituir a essência mesma do poder soberano. Mas, se esse recorte provém mesmo de outros regimes de poder, então o poder soberano parece ser indissociável deles. No seio do poder soberano, na sua essência, parece vigorar um outro tipo de poder, não um regime de poder específico, como o biopolítico, mas um regime qualquer que seja capaz de dizer a norma da exclusão.
O cidadão incluído é definido pela exclusão do não-cidadão. Dessa forma, o não-cidadão permanece incluído no poder soberano. Pois, o recorte é constitutivo do poder soberano.
O recorte, diz-se, procede de uma decisão arbitrária do soberano. De tal modo que a decisão, o poder de decisão é o que caracteriza o soberano.
Esta decisão não é, porém, o índice do livre-arbítrio do soberano se ela se vincula às normas estabelecidas por outros regimes sim-não: os disciplinares que separam disciplinados de não-disciplinados, os biopolíticos que separam os puros dos impuros, os ecopolíticos que separam uma classe econômica de outras ou os teológicos que separam os fiéis dos infiéis.
O poder soberano é atravessado por esses regimes de exclusão para estabelecer sua própria exclusividade, ao transformar as normas desses regimes em leis e direitos.
A identidade, a variável do “eu sou ISTO”, isto-mulher, isto-negro ou isto-árabe, é definida primeiramente nos regimes de exclusão por normas. São esses regimes que dão a base ideológica ou material para a decisão do soberano.
Por isso, dizer “eu sou ISTO” é primeiro uma rendição e somente depois uma luta. Significa primeiro uma rendição nos planos dos regimes de exclusão por normas: _eu aceito ser ISTO que você diz que eu sou. E vão, com a rendição, primeiro reforçar estes regimes, para então sustentar a luta no plano da soberania.
_Enquanto sou ISTO mesmo que você diz que eu sou (um outro em relação a você), eu luto, eu exijo ser reconhecido como um cidadão igual a você no plano da soberania (embora no plano dos regimes das normas, eu permaneça sendo diferente, anormal).
Quando a luta por reconhecimento triunfa e aos anormais são atribuídos direitos, o poder soberano neutraliza os regimes das normas. Entretanto, ao mesmo tempo, encerra os cidadãos em suas identidades.
A identidade, nesse jogo dos regimes das normas, é definida pelo outro. E assim permaneço preso à minha própria alteridade, pois é o outro que se define e me define a partir de um recorte que não é estabelecido por mim.
A identidade é apenas uma figura, uma determinação externa do meu ser, que não me é essencial, mas antes o limita, ao determiná-lo. Lutar pelos direitos de uma identidade é primeiro capitular a uma forma que me é ditada pelo outro.
Ele será um Desaparecido
– Sim, estou indo viajar amanhã.
E invariavelmente eles fazem uma cara de forte surpresa e comoção, me abraçam comovidamente, como seu eu fosse morrer no dia seguinte, talvez porque pensem ele vai para outro mundo.
Enxertos, superposições, bifurcações

As questões se enxertam umas nas outras pelas pontas, como sinapses. Ideias se buscam umas às outras como ímãs, movidas por uma força ou um esforço inerentes a elas próprias. Não há vazio no pensamento. O isolamento da ideia é uma artificialidade.
A cada vez que penso, por exemplo, pela força mesma do pensar, penso em camadas que se superpõem em paralelismos ressonantes, penso em cordas que se coligam em teias, em rios que se bifurcam em deltas, a tal ponto que, para me concentrar na efetividade de uma só ideia, devo escorar contra a superposição, prolongar o encordoamento para me contrapor aos saltos, ladear o rio com diques para evitar a enchente.
Como se houvesse uma espontaneidade do pensamento e a atividade do pensante fosse apenas a de contenção, bloqueio. Como se para pensar fosse preciso deixar de pensar.
Sobre as fontes
Mas também se diz com frequência: “não sei o que ele viu nela”. E aqui o amante não é cego, ao contrário, ele vê algo que ninguém mais vê.
Cegueira ou visão acentuada?
O “amor é cego” e “não sei o que ele viu nela” são duas proposições que se extraem da mesma fonte, a linguagem cotidiana. Se elas dizem coisas diferentes, como podemos, contra a filosofia, pensar somente a partir dela? Como devemos limitar nosso pensamento ao que ela pode nos anunciar?
Experiências negativas
Contudo, será possível fazer uma experiência negativa, se na experiência se dá apenas o positivo?
E se for assim, se só há experiências positivas, então podemos falar de algo que não podemos pensar (oximoros). Mas, e o inverso? Podemos pensar o que não podemos falar, mesmo com toda a liberdade de expressão?
Lugar-vertigem
Isto é ficção?
[...] quando posso me esconder atrás de meu jaleco branco novamente, puxando minha velha rotina sobre a cabeça e o rosto, como fazem os negros com o cobertor quando vão para a cama*.Talvez também por isso seja difícil separar o real do imaginário (há outras razões que dizem respeito à estrutura da nossa existência).
(*) FAULKNER, William. Palmeiras selvagens. Trad. Newton Goldman e Rodrigo Lacerda. São Paulo: Cosac Naify, 2003 [1939]. P. 48.
Entregues
Pois, por causas externas somos sacudidos de um lado para o outro, como ondas do mar por ventos contrários.
Viajar o corpo
Agora, tenho a impressão de que, primeiro, sempre é preciso checar alguma coisa, verificar e conhecer mapas, locais, tarifas, ver algumas fotos, agendar visitas, percursos, como se a viagem começasse toda antes do deslocamento.
Isso quer dizer que a viagem deixou de dizer respeito a corpo, já que sua preparação nos acostuma com o trajeto, e diminui, assim, consideravelmente, a variação do dado sensível? Isso quer dizer que a viagem se tornou mais espiritual? Ou que, apenas, de certa forma, deixou de ser viagem?
Da forma de um livro
No início
Por uma ética da leitura: uma prática (ascética)
Por uma ética da leitura
Tratar os animais como animais
Não penso que ele possa compreender o que seja uma despedida, nem se ofender com o desaparecimento não anunciado de alguém que ele ama.
Aprender a não cuidar dos animais como se fossem humanos, para não passar com facilidade a tratar os seres humanos como animais.
Diferenças entre razão suficiente e causa
Pode estar nisso uma diferença entre razão suficiente e causa.
Para quem ama a ideia de livre-arbítrio e a consequente possibilidade de culpabilização estrita do sujeito da ação, é preciso falar de razões suficientes e não de causas.
As razões suficientes seriam os motivos que levaram o sujeito, em toda a sua liberdade, numa certa situação, a agir de certa forma e não de outra (por outras razões, na mesma situação, ele poderia também ter optado por não agir assim). E esses motivos seriam suficientes – nada ficaria faltando – para que compreendêssemos o por quê, o sentido de sua ação.
Mas, para quem pensa a partir da impensável (em termos absolutos) causalidade, razão e causa podem dizer o mesmo. Assim, Spinoza não diferencia causa de razão:
De qualquer coisa deve ser assinalada a causa, ou seja, a razão, tanto por que existe, como por que não existe. (E1p11, primeira demonstração alternativa)Outra diferença entre razão suficiente e causa pode ser alcançada com referência à finalidade. A razão suficiente envolveria uma finalidade, um fim para a ação. A causalidade absoluta aboliria a finalidade (todo fim pré-estabelecido é imaginário).
Novamente as razões suficientes
As situações com que se deparam seus personagens são dificilmente explicáveis em termos de razões suficientes. Ao mesmo tempo, porém, as razões parecem estar ali, por baixo dos acontecimentos, pouco óbvias, mas como se pudessem ser desenterradas. Ficamos à procura da coerência dessas razões, como se pudéssemos costurá-la, essa coerência, por trás do tecido texto e das razões mais aparentes.
Terríveis ideias
_ A mesma preguiça, no velho é deprimente, no jovem é revoltante.
_ O ‘bio-’ do qual se escreve na biografia é diferente do ‘bio-’ que se estuda na biologia.
Reformas
Nenhuma reforma alcança ser totalmente ortoefetiva.
Pontes entre planos intelectuais
Em Spinoza: de “cupiditas” (desejo) a “conatus” (esforço).
“Jihad” de Abedi (esforço para agradar a Deus) como pré-configuração e acolhimento do “conatus” em um certo “dispositivo”.
Hedonismo
Afinal, vivemos juntos para o prazer? Essa questão tem dois sentidos:
(1) Nos juntamos para obter prazer dessa junção? Acho que não, não fundamentalmente (a sociedade também é causa de mal-estar).
(2) Nos juntamos para obter prazer com objetos que são fruto dessa junção, e que sem ela não viriam a ser? Apenas parcialmente. Não há como que duas etapas: junção e, depois, produção de objetos de prazer. Tudo acontece de uma só vez. De modo que a junção já é objetiva, já toma a forma do objeto que ela produz. Por isso, penso: nossa ratio societatis é objetal, dispositiva, se funda no objeto social (produto-mercadoria) e não no prazer.
Nossa ratio societatis dispõe e constitui, apresenta e impinge as formas de prazer que podemos gozar.
Engano com a pureza
Mas não há, para nós, não haverá jamais, a beleza sem feiúra, a clareza sem as manchas das cores, a pureza sem mistura. Ao menos não podemos perceber, ou ser conscientes de um sem o outro. Não podemos apreciar o infinitamente puro sem imaginá-lo e misturá-lo com tantas outras coisas, nem o celestial absoluto sem estarmos vivos, nem o eterno sem durarmos.
Embora, de certa maneira, na verdade, tudo seja puro e perfeito, para nós, não pode haver o puro sem o impuro, o perfeito sem mistura de imperfeição.
Intimidade
A intimidade é como um círculo que se retrai ou se esparrama na relação que mantém com o que não pertence a si mesma, a esta intimidade mesma.
Entretanto, diferentemente do círculo e dos círculos circunscritos, a intimidade não tem um centro, sequer encerra em si e por si uma área de continuidade.
Na relação com o que não lhe é íntimo, a intimidade se mostra descontínua, fragmentada, múltipla.
O castelo
Assim castelo pode ser considerada uma função de dois valores: verdadeiro (V) ou falso (F).
C(x) = V, se somente se x, a variável questionada, adequa-se à definição de castelo, isto é, se somente se x domina, controla...; senão, C(x) = F.
Castelo como uma função é então uma relação entre um domínio de variáveis e um conjunto-imagem de dois elementos apenas.
Mas, mudemos um pouco a natureza deste conjunto-imagem. Entre V e F, coloquemos uma infinidade de elementos que, por definição, tenham um pouco de V e um pouco também de F, em infinitas proporções ou razões.
Assim se diria que C(x) –> V, se somente se x tende mais a dominar, controlar... do que tende a não dominar, a não controlar... nossas vidas...; senão, C(x) –> F.
O pensamento conceitual tende a trabalhar com o operador funcional [=], o princípio do terceiro excluído. O pensamento espiritual, o pensamento por aproximações e transformações de estilo ético, tende ao operador funcional [–>].
Leibniz e a razão suficiente
Ele diz, como nós, que todo fato tem uma razão suficiente. E que, para um fato ser considerado verdadeiro, há que estar lá (adesse) uma razão suficiente aposta ou, no mínimo, suposta.
Contudo, ele não vai, como nós gostaríamos de ir, da razão suficiente ao fato, mas do fato à razão (e nisso ele entra no castelo kafkiano).
(*) Cf. LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadología: Edición trilingüe. Trad. Julian Velarde. Olviedo: Pentalfa, 1981. §32. P. 102.
Razões óbvias, razões ocultas
Assim, os sistemas, uma vez ou outra, aproveitam-se dessa suposta obviedade para nos ocultar a razão da coisa.
[Isso é um pouco do jogo de Kafka]
Serviços supérfluos
Muitas vezes, então, os sistemas nos apresentam as coisas sem nos dar, ao mesmo tempo, a razão que as faz ser como são. Esse serviço lhes parece desnecessário.
Fruto do acaso
Isso não quer dizer que sempre nos sentimos desesperados se tomamos a ocasião presente como fruto do acaso e não como fruto de nossa intenção; mas que, em certas ocasiões, mas em outras não, nos desesperamos se imaginamos que isso que vivemos é fruto do acaso e não da nossa vontade.
(*) KAFKA, Franz. O castelo. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 [1922]. P. 21.
Seu tema era a liberdade
Para Foucault, a filosofia não é uma tentativa de aprisionar o pensamento em conceitos – isso seria a falsa filosofia. Pois a liberdade não é um vazio, um campo vazio. É um campo cheio de coisas, e no caso do pensamento filosófico, um campo cheio de conceitos. Criá-los e lidar com eles é praticar a liberdade do pensamento.
(*) FOUCAULT, Michel. Vivre autrement le temps. Texte 268 [1979]. In: Dits et écrits. Vol. II. 1976-1988. Paris: Quarto Gallimard, 2001 [1994]. P. 789.
Solidão e política III
O desejo de solidão tem a ver também com essa tendência à imitação afetiva. Quando não desejamos mais ser afetados pelas mesmas alegrias e tristezas, amores e ódios, esperanças e medos que afetam nossos semelhantes (talvez porque consideremos seus afetos por demais vulgares... e gostaríamos de nos elevar acima deles), a solidão, o isolamento, a retirada da política é uma tática disponível.
Uma outra tática (mas essa está menos imediatamente disponível e requer uma formação), para não sermos afetados dos mesmos afetos (desejos, alegrias, tristezas etc.) que afetam os que nos rodeiam, é não mais considerá-los como nossos semelhantes. Assim, mesmo permanecendo entre eles, porque nos consideramos diferentes deles, não imitaremos seus afetos.
As duas táticas envolvem isolamento. Na primeira, trata-se de um isolamento corporal, um afastamento físico. Na segunda, o isolamento é caracteristicamente espiritual, uma consideração imaginária de superioridade, de inferioridade, de diferença.
Na primeira tática, a solidão rompe com a política. Na segunda, a solidão é justamente a condição de possibilidade da forma imperialista da política (e da relação imperador-imperados). Pois, aquilo que menos podemos suportar é receber comandos da parte de alguém que consideramos nosso semelhante, de alguém que estimamos ser igual a nós (nesse caso, todos desejam imperar, uns sobre os outros).
(*) Cf. SPINOZA, Benedictus de. Ethica-Ética: edição bilingue latim-português. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2007 [1675]. Parte III, proposição 27.
Historiografia do acontecimento
Isso faria do acontecimento um evento e mostraria a impossibilidade de uma ciência do acontecimento enquanto tal?
Ou devemos inteligir a historiografia do acontecimento como uma crítica do evento e mostrar que somos, enquanto seres humanos, incapazes de apreender de modo total a causalidade na história?
Solidão e política II
O personalismo na política baseia-se em relações de amizade dependente (se isso ainda pode ser chamado de amizade).
Porém, um mecanismo, um formalismo político que impeça relações de amizade, também neutralizaria a política.
Solidão e política I
Internet política
Uma inscrição na internet não é portanto um traço no vazio, mas uma superposição, um traço efetuado sobre outros traçados. Na internet também, trata-se de palimpsesto.
Spinoza, por exemplo, negava a abstração da extensão cartesiana. Para Spinoza, não há vazio, não há espaço sem corpo, assim como não há pensamento vazio, pensamento sem ideia.
A música popular do vizinho
É terrível quando, ocasionalmente, essas duas formas se misturam: quando os vizinhos, eles mesmos, se expõem como intrusivos veículos da forma espetacular da música popular.
O dever do artista de viver para si mesmo
E porém eu não me enganava ao sacrificar os prazeres não somente da mundanidade, mas da amizade, àquele de passar o dia todo neste jardim [de rosas, ou seja, entre as jovens moças, como o vento, como o jardineiro entre as rosas. A metáfora do jardim é construída duas páginas atrás]. Os seres que têm a possibilidade disso [refere-se aqui à possibilidade do sacrifício da amizade e não à possibilidade de viver no jardim] – é verdade, estes são os artistas [e Proust estava convencido de que não se tornaria um deles, mas mesmo assim...] – têm também o dever de viver para si mesmos; ora a amizade é para eles uma dispensa deste dever, uma abdicação de si.Mais adiante, na mesma página, Proust põe em analogia o dever (o dever-ser) do artista e o devir (o vir-a-ser) de uma árvore:
[Os artistas são] como árvores que retiram de sua própria seiva o nó seguinte do seu ramo, o andar superior de sua compleição*.Os artistas são e devem ser como as árvores. É preciso, então, primeiramente, inteligir que o ‘dever de viver para si mesmo’ do tipo humano artista, de alguma forma, corresponde ao processo natural, não deontológico de crescimento de uma árvore, que retira de si mesma o alimento, a seiva que a faz ir mais alto.
Ora, o devir-árvore não é um dever da árvore. A árvore não possui deveres (no sentido de um dever de ser o que ela eventualmente não é na sua existência). Mas também o artista não é uma árvore, não se imagina preso como ela à sua essência natural em estreita vinculação com as suas circunstâncias existenciais.
O artista (devido à sua complexidade totalmente humana e ainda assim singular e diferente dos outros tipos humanos) tem a possibilidade de exercer sua liberdade (mesmo que isso seja apenas possível na sua imaginação) e sacrificar os prazeres da amizade a coisas mais relevantes.
A essência do artista é complexa e ele pode (novamente, ao menos imaginariamente) determiná-la num sentido ou em outro, e por isso se pode falar de um dever do artista. O artista pode pensar seu devir como um dever (imaginação também é pensamento).
Assim, de fato, o ‘dever de viver para si mesmo’ do artista não é exatamente um puro dever (em pura oposição à existência), mas um dever-devir.
O artista se conduz – imaginariamente, ele pode e deve se conduzir – segundo um princípio de existir que conjuga dever e devir, que não se pensa apenas em oposição à existência, às coisas tais como elas existem, como o dever-ser, mas também que afirma o seu vir-a-ser, como o devir.
A analogia do dever do artista com o devir da árvore nos revela ainda uma segunda faceta do dever do artista de viver para si mesmo. O devir da árvore não é para si, ele se guia por algo que extrapola o si da árvore e a eleva acima de si mesma. O elevar-se da árvore é mais urgente, premente que o si da árvore. O elevar-se é indissociável do si da árvore, mas não é o si árvore. Assim também, análogo ao devir da árvore, o dever-devir do artista não tem como complemento um objeto indireto pessoal reflexivo, isto é, não é um dever que encontra seu fundamento num objeto indireto pessoal – o si do para si – que lhe é como um fim.
O ‘para si mesmo’ na expressão do dever do artista pode ser suprimido (isso não implica, muito pelo contrário, o sacrifício de si): o ‘dever de viver para si mesmo’ é simplesmente o ‘dever de viver’. Este dever de viver, porém, não é o de simplesmente viver uma vida, viver a todo custo, o dever de perseverar na existência, mas é o dever de viver a vida de artista – este é o dever da altura.
A amizade para Proust não é o bem supremo. O bem supremo do artista é o elevar-se, é a altura. E a altura é um bem em si mesma e para si mesma – não para alguém que usufrua dela. A altura é o dever-devir da vida do artista-árvore.
(*) PROUST, Marcel. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris: Gallimard, 1988 [1919]. P. 468.
O açougue do 0rientalismo
Um tipo
Orientalismo brasileiro
A insustentável leveza das ideias
Desejo de...
Dito de outro modo: não há um desejo de carne prêt-à-porter, mas do que a abre, recorta, expõe, anuncia. Há desejo de açougue.
Exemplos: Francis Bacon e o açougue do orientalismo.
O inimigo infiltrado
Este tipo é recorrente na desconfiança (espontânea ou induzida) que vige nos mais diversos dispositivos de poder (em relação ao judeu, na Alemanha de antes da Segunda Guerra, ao comunista, durante a Guerra Fria, ou ainda atualmente ao terrorista islâmico nacional, ao nosso “paquistanês”).
Outro exemplo de inimigo inflitrado – Lane no Egito (na perspectiva de Said*): “O seu poder era ter vivido entre eles como um falante nativo, por assim dizer, e também como um escritor secreto”.
(*) SAID, Edward W.. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. Trad. Rosaura Einchenberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 [1978]. P. 224.
Orient(ação)
Os materialistas, por sua vez, dizem: o Oriente é o nome de uma troca material.
Agora já não sei se, ao falar do Oriente, eu mesmo estou de alguma forma coagido a dizer o que digo.
Características essenciais do sujeito
Ao falar, Albertina mantinha a cabeça imóvel, apenas fazia mexer a ponta dos lábios. Disso resultava um som alongado e nasal, na composição do qual entravam talvez hereditariedades provinciais, uma afecção juvenil de fleuma britânica, as lições de uma instrutora estrangeira e uma hipertrofia congestiva da mucosa do nariz.*Embora essas características não fossem constantes, pois Proust logo em seguida escreve que elas desapareciam quando Albertina relaxava, ainda assim, constituíam traços essenciais e determinantes do caráter, da personalidade dela.
Mas, nessa caracterização hipotética (notar o talvez) de Albertina, entram elementos que são característicos do próprio século XIX: a determinação do caráter também por características do corpo – a hereditariedade e a fisiologia – além da simples instrução. Características que, na concepção do século, o sujeito do corpo não pode facilmente contornar.
(*) PROUST, Marcel. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris: Gallimard, 1988 [1919]. P. 440.
Um véu encobre a lei
[...] os advogados do liberalismo e do intervencionismo militar nos países muçulmanos desenhados como hostis têm, como no caso do Afeganistão em 2001, formulado a lenta condenação do Islã a partir da questão do gênero.*Este artigo foi escrito em 2006. Recentemente tivemos a atitude do parlamento belga. E ainda mais recentemente a do governo francês.
Para uma população de 65.000.000, há na França uma estimativa de 1900 mulheres que cobrem o rosto com véu. Isso justifica uma lei que proíba crobir o rosto? Ou devemos ver aqui algum véu que encubra a lei?
(*) MADARASZ, Norman. Foucault e a revolução iraniana: o jornalismo de ideias diante da “espiritualidade política”. In: Verso e Reverso. Ano XX - 2006/3 - Número 45 . São Leopoldo: Unisinos, 2006.
De si design II
Não se recebe a sabedoria, é preciso descobri-la por si mesmo após um trajeto que ninguém pode fazer por nós nem pode nos poupar, pois ela é um ponto de vista sobre as coisas.E isso _ a sabedoria é como um mirante de onde se estabelece uma perspectiva para as coisas, para chegar lá é preciso percorrer por si mesmo um caminho _?
À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris: Gallimard, 1988 [1919]. P. 427.
Isso é um comentário? Isso é uma paráfrase? Uma fotografia? Uma perspectiva?
De si design
[...] Odete, disciplinando seus traços, havia feito de seu rosto e de seu figurino essa criação, cujas grandes linhas, através dos anos, seus cabeleireiros, costureiros, ela mesma – na maneira de se postar, de falar, de sorrir, de posicionar suas mãos, seus olhares, de pensar – deviam respeitar.Note-se aqui alguns detalhes:
À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Paris: Gallimard, 1988 [1919]. P. 424.
(1) o desenho envolve não apenas o corpo, mas também o pensamento;
(2) a relação de si a si e o design da subjetividade estão todos voltados para o mundo;
(3) a disciplina que esse governo requer.
Mecanismos afetivos IX – a geometria das filmagens
[um certo estilo narrativo até mesmo compreendeu esse distanciamento como necessário; aí, a mostração exibicionista dos modos materiais de produção do cinema deveria desbancar o crédito ideológico, a magia das imagens em seu fluxo fetichista – somos porém todos tão loucos, que seria também uma loucura procurar a inversão da loucura]
Da mesma maneira, à medida que compreendemos o mecanismo das afetos, a maneira como surgem, como se intensificam ou se enfraquecem na sua relação com a imaginação e com outros afetos, nessa medida, nos descolamos de seu fluxo aparentemente caótico, aderente, e compreendemos sua lógica, ou melhor, sua geometria, a maneira pela qual, tal qual figuras geométricas, os afetos são traçados.
Esse distanciamento do sujeito em relação ao próprio conteúdo afetivo que o constitui pode parecer doentio, uma espécie de desdobramento do eu em que a identidade se perde. Talvez, porém, a relação de si a si que este desdobramento implica, pelo contrário, possa ser o início de um processo de despatologização, uma terapêutica, não no sentido de descaracterizar a afetividade como uma alienação, mas no sentido de governá-la como parte do governo de si.